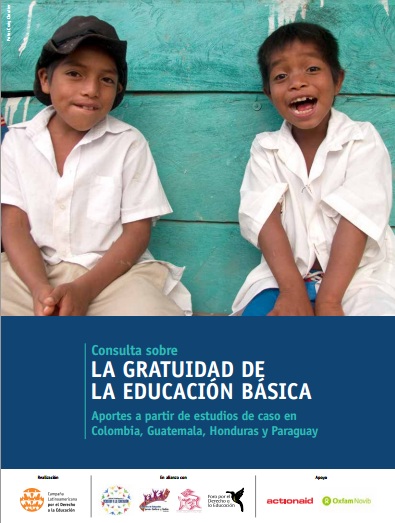
Consulta sobre la Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay
4 de septiembre de 2014La publicación presenta los resultados de una investigación lanzada en el 2014, que sondeó la situación actual relativa al cumplimiento de la garantía de la gratuidad por los Estados, a partir del análisis de cambios en la normatividad y de la consulta directa a comunidades escolares. Este proceso indagó si son suficientes o no los recursos que llegan a las instituciones educativas de cada uno de los países, concluyendo que en los cuatro contextos nacionales analizados, la gratuidad no constituye una realidad en la práctica.
Descárgala: Consulta sobre la Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, en alianza con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, el Colectivo de Educación Para Todas y Todos de Guatemala, el Foro Dakar de Honduras y el Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay, con el apoyo de ActionAid y Oxfam Novib, 2014.

La fragmentación social de la oferta educativa: educación pública vs. educación privada
3 de septiembre de 2014
Descárgalo: La fragmentación social de la oferta educativa: educación pública vs. educación privada. Ana Pereyra [Autora]. Boletín Nº 8, Siteal. Buenos Aires. Junio de 2006.

Paraguay: Estudiantes cierran calles en reclamo de una educación pública y de calidad
2 de septiembre de 2014Estudiantes agremiados en la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) cerraron las calles en varios puntos de la ciudad de Asunción y el país, en reclamo de mejoras en la educación
Fuente: ABC Color | Sugerencia del Foro por el Derecho a la Educación en el Paraguay

Con pancartas como “Con la educación no se lucra” y “No pierdo clases, aprendo a luchar por mis derechos”, los estudiantes cerraron por más de media hora la intersección de la avenida Mariscal López y San Martín, así como General Díaz e Independencia Nacional, entre otros puntos de Asunción y el país, causando dificultades en el tránsito vehicular.
Además del reclamo principal de una educación pública gratuita y de calidad, los alumnos presentaron varios pedidos.
En primer lugar, pidieron que la merienda y el almuerzo escolar alcancen también a los estudiantes secundarios.
Otros pedidos incluyeron el mejoramiento de la infraestructura escolar, el uso correcto y transparente de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), el cumplimiento de la Ley de Boleto Estudiantil que rige desde el 2003, la democratización de los colegios y la elección de representantes estudiantiles.
Falta de rubros
Sheila Ríos, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CTN) de Asunción, reclamó el problema persistente de la falta de rubros de docentes en esa institución. Alrededor de 16 maestros en este colegio enseñan de forma ad honórem, acotó.
“Estamos pidiendo respuestas por los rubros faltantes en el colegio, estamos pidiendo que nosotros no seamos los que tengamos que pagar a los profesores, que nuestros laboratorios tengan insumos”, indicó.
Agregó que el movimiento estudiantil busca demostrar que están unidos y que quieren el cambio.


Universidad S.A.: Documental discute las consecuencias de la mercantilización de la educación superior
1 de septiembre de 2014El documental es independiente, autofinanciado y su distribución sigue una licencia Creative Commons
Fuente: Texto adaptado de la página de difusión de Universidad S/A
Universidad S.A. es un documental independiente, realizado por dos ex-estudiantes de la universidad pública en España. La producción pretende mostrar los procesos y las consecuencias que resultan de la mercantilización de la Universidad y de su contexto político, económico y social. Se ha entrevistado a personas vinculadas a la universidad de diferentes maneras y con distintos perfiles – de estudiantes al ex-rector, a fin de ofrecer una visión amplia y diversa de lo que acontece la educación superior. Así, el documental transita desde los espacios macroeconómicos de decisión que marcan la pauta y el hacer de los gobiernos a la traducción directa de la aplicación de estas medidas, previo señalamiento de los responsables políticos, explicitando las consecuencias sociales y personales que tienen estas dinámicas.
De acuerdo al equipo de realización, “la Universidad, la niña bonita de nuestras instituciones, se ha dejado corromper. Y lo ha hecho de distintas maneras: sometiéndose a los dictados de la mercantilización, dejándose llevar por la fiebre inmobiliaria, banalizando los títulos, aceptando la privatización -literalmente- de los resultados de las investigaciones (y por ende; elitizando y privatizando el conocimiento producido con dinero público), deshumanizando las aulas y a lo que ellas contengan, etc. Todo, por tal de satisfacer a nuestras nuevas deidades: los mercados, las empresas y las corporaciones que en ellos actúan.”
Asista al documental, a continuación:
Universidad S.A. (Documental) www.universidadsa.com from Universidad S.A. on Vimeo.

Chile: No todo lo que brilla es oro – subcontratación, decreto de ley y las “privadas”
28 de agosto de 2014El 31 de julio, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley con el propósito de derogar Decreto de 2010 que discute la organización y mecanismos de toma de decisiones de las universidades privadas, entre otros puntos. Frente a ello, el análisis reafirma la importancia de rever la concepción de la universidad como empresa
Por Sebastián Zenteno Garica | El Quinto Poder

Hace un par de semanas la presidenta Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 [conoce aquí su contenido], que hace alusión principalmente, a la forma cómo se organizan las instituciones privadas y se toman las decisiones dentro de las Universidades Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
Si bien esta derogación ha sido vista desde el movimiento estudiantil como un avance y un pequeño triunfo logrado con organización y lucha durante el último tiempo, no deja de hacer ruido al interior de la organización estudiantil, dado que, como lo ha mencionado la vocería de la CONFECH, no se establece ninguna fórmula concreta de la forma, periodicidad y nivel de incidencia que deben tener los distintos miembros de la comunidad universitaria en la toma de decisiones; sólo se prohíben las trabas a la participación y se establece un plazo de un año para que los establecimientos adecuen sus reglamentos.
La consigna del movimiento social por la educación gratuita ha sido clara al señalar que se busca erradicar completamente el mercado de la educación, ya que se parte de la concepción de la educación como derecho social. Sin embargo, el mercado no sólo opera en el sentido arancelario y el cobro por estudiar, sino que dentro de las Universidades Privadas, CFT e IP existe una forma de comprender la universidad como una empresa, en la cual la subcontratación de servicios juega un papel importante y no puede quedar fuera del debate por una nueva educación.
La derogación del DFL Nº2 y el nuevo escenario que genera, conlleva una nueva visión de las instituciones educacionales, de una manera comunitaria, en la cual, la toma de decisiones sea multi-estamental lo que implica la generación real de una comunidad universitaria activa y vinculante.
La derogación del DFL Nº2 persigue un ideal de democratización de las instituciones educacionales, sin embargo, sí dentro de las universidades privadas siguen existiendo trabajadores externos a la universidad ya sea de áreas de seguridad o de aseo, además de la alta existencia de académicos que no son contratados en la planta y que por ende difícilmente se encuentran sindicalizados, resulta imposible lograr este ideal de democratización con la mera derogación de un decreto.
Es aquí donde podemos encontrar la letra chica de este proceso de democratización de las universidades privadas, mientras exista una baja presencia de académicos contratados y la subcontratación de servicios, nunca podrá generarse una real comunidad universitaria, que se encamine de forma democrática hacia la toma, en conjunto, de decisiones y del diseño del proyecto educativo.
El construir una nueva educación al servicio de las necesidad de nuestro país es una tarea que si bien ya ha removido sentidos comunes y ha entrado dentro del debate social, aun se encuentra en una fase inicial, se debe seguir avanzando en generar espacios para que todos los que conforman las instituciones educativas tomen las decisiones y forjen un proyecto educativo que se encamine hacia la transformación de Chile
Lee también:
Bachelet firma proyecto que termina con DFL 2: “Es un acto de justicia”

Brasil: Em defesa do ensino superior gratuito
26 de agosto de 2014El periodista Felipe Gesteira discute el tratamiento de la prensa brasileña al tema de la calidad de las universidades públicas; en su opinión, está en marcha una campaña para poner fin a la gratuidad
Por Felipe Gesteira* | Observatório da Imprensa, edição 813

É assustadora a forma como parte da imprensa do país tem conduzido o debate sobre a qualidade das universidades federais e estaduais. Impressiona ainda mais ver um verdadeiro lobby sendo orquestrado por vários setores da sociedade onde a meta é acabar com a gratuidade dos cursos de graduação e pós-graduação nessas instituições. O debate é complexo, mas a primeira questão a ser levantada é: a quem interessa o fim do ensino superior gratuito no Brasil?
A justificativa toma como ponto de partida a situação financeira em que se encontram várias instituições no país e usa como exemplo a Universidade de São Paulo (USP), conceituada internacionalmente. Entre as várias teorias levantadas pelos que se posicionam contra a universidade pública uma das principais é a de que a maior parte dos alunos teria condições financeiras de pagar uma mensalidade compatível com a qualidade do ensino. E é desse ponto onde começam os absurdos.
Em várias reportagens, colunas e artigos publicados nos jornais, essa conversa começa sempre do mesmo jeito – que as famílias ricas são as maiores beneficiadas. É verdade, sim, que muitos alunos matriculados nas federais, talvez até a maioria, poderiam pagar pelos estudos. Também é verdade que estudantes de baixa renda estão ocupando vagas nas faculdades particulares. Quando não têm a sorte de serem bancados por um Prouni, seguem endividados nos diversos programas de financiamento estudantil.
O exemplo das doações
Essa realidade é reflexo da baixa qualidade da escola pública de base, um fardo histórico que vem sendo enfrentado ano após ano por todos os municípios do país, mas ainda longe da equivalência com a qualidade do ensino particular. Ainda assim, com todas as disparidades, a universidade pública é uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Acabar a gratuidade nas federais seria um retrocesso imenso, que só beneficiaria as elites – novamente – e quem ganha dinheiro com a educação superior.
Não há garantias para a suposta justiça social que seria promovida caso acabasse a gratuidade. “Quem pode, paga; quem não pode, recebe bolsa.” Perfeito, na teoria. Mas já que a ideia não parte do governo, será que seria assim mesmo? A moça de família pobre que hoje tem vaga em um curso de Medicina numa universidade federal teria mesmo acesso a uma bolsa de estudos?
Se as melhores universidades brasileiras não estão entre as cem mais conceituadas pelos rankings internacionais não é por baixa qualidade no ensino, pesquisa ou extensão. A verdade é que a maior parte dessas listas pontua bem instituições que oferecem aulas em inglês, o que não é nosso caso, ainda. Bom exemplo de fora? Que seja o das doações. Em muitos países, após a graduação os alunos costumam contribuir financeiramente, como forma de gratidão por sua formação profissional. E isso acontece até mesmo em instituições privadas. Se o costume pega por aqui, não seria má ideia.
*Felipe Gesteira é jornalista

Brasil: A Universidade de São Paulo não é problema, é solução!
João Sette Whitaker, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil, discute la crisis de la Universidad de São Paulo y contesta los argumentos en defensa de medidas como el pago de mensualidades por las y los estudiantes y otras que concurren al achicamiento de lo público (en portugués)
Por João Sette Whitaker | Cidades para que(m)?
1. Resumindo os Fatos:

Entre 2010 e 2013, a USP parecia viver momentos de euforia. Além da presença já tradicional da universidade no topo da produção científica nacional, um Reitor escolhido a dedo pelo Governador José Serra (afinal, era o segundo colocado da lista tríplice), o Prof. João Grandino Rodas, punha em prática uma gestão que mesclava (propositalmente?) irresponsabilidade financeira, certo autoritarismo (na relação com o Conselho Universitário), e doses de populismo, gastava o que devia e o que não devia em obras de grande visibilidade, bolsas de todos os tipos, vistosas “embaixadas” da universidade em Cingapura, Londres e Boston, e alguns merecidos benefícios a docentes e funcionários, cujo patamar salarial sempre foi muito aquém do que deveria ser (conseguindo assim acalmar os ânimos grevistas em sua gestão).
Terminado seu mandato, o novo Reitor (que fazia parte da gestão anterior), depara-se com o óbvio: a gestão Rodas havia gasto muito além da conta, entrando sem parcimônia nas reservas financeiras da USP e colocando em risco (propositalmente?) sua tão sagrada autonomia face ao Governo do Estado. Nada mais previsível. Porém, a estrutura de poder da universidade é hoje tão viciada que o então reitor pôde fazer tudo isso, pasmem, dentro da legalidade, amparando-se na condescendência de seu Conselho Universitário.
Diante da grave crise, o atual Reitor voltou-se contra seu próprio lado. Esquecendo-se de que é ele mesmo professor (fazendo parte de reduzidíssima elite com salários bem graúdos), em vez de abrir as opacas contas da universidade para amplo conhecimento da sociedade e uma real apreensão do que havia sido feito, preferiu colocar a culpa na folha de pagamento e na massa salarial que compromete 105% do orçamento e “engessa” a universidade. Em suma, para o Reitor, são os professores e funcionários da USP que geram a crise, e não a sequência de gestões irresponsáveis.
Com isso, provoca dois movimentos que parecem bem planejados: por um lado, alimenta uma campanha perversa e simplista da grande mídia contra os “marajás” da USP, supostamente responsáveis pelo colapso financeiro, como sugere, por exemplo, artigo do jornalista Élio Gaspari apontando os “doutores da USP” (leia aqui) como causas do desastre. Por outro lado, abre espaço para um movimento de enfraquecimento da USP e da universidade pública, que passa a ser vista, também de maneira simplista e perversamente equivocada, como uma máquina anacrônica e deficitária que necessita de um “choque de privatização”. Vão nesse sentido as propostas diversas de privatização da USP, como as avançadas pelo próprio Reitor em artigos na mídia (sugerindo por exemplo a redução de docentes em dedicação exclusiva), ou o tragicômico artigo da Folha de SP sugerindo que os alunos da USP poderiam pagar “pequenas” mensalidades de quase 4 mil Reais!
Que não se enganem os incautos a quem essas campanhas se destinam. São argumentações grosseiras que escondem a realidade. Que Élio Gaspari não se preocupe: os “Doutores da USP” que ele aponta ganham certamente bem menos do que qualquer renomado jornalista do mercado midiático, e são bem menos responsáveis pela crise do que parece, como veremos.
2. Desfazendo um primeiro mito: “a folha de pagamento que compromete 105% do orçamento da USP é a grande culpada pela crise”.
Comecemos, então, por essa questão: a folha de pagamento da USP compromete 105% do seu orçamento não porque os salários de seus docentes e funcionários sejam milionários, mas porque há anos a universidade vem sofrendo constante ampliação sem que, ao mesmo tempo, haja um aumento correspondente das verbas para seu sustento.
Para quem não sabe, as universidades estaduais paulistas vivem, desde 1989, do repasse de 9,57% da arrecadação do ICMS do Estado, verba destinada a seu custeio, o que implica, na maior parte, no pagamento dos salários. Além, é claro, de outras fontes de financiamento, estas porém destinadas à pesquisa, provindas dos governos estadual (Fapesp) e federal (Capes-Cnpq e Finep), assim como de agências internacionais ou mesmo de instituições privadas (por meio de convênios específicos). A alíquota do ICMS repassada às universidades, nos primeiros anos, sofreu reajustes, conforme as três universidades cresciam: de 8,4% do ICMS em 1989, passou para 9,57% em 1995.
Porém, desde então, congelou-se. Em quase 20 anos, não houve mais reajuste, enquanto que a universidade não parou de crescer. O orçamento da USP ficou dependente de um repasse variável conforme aumenta – ou diminui – a arrecadação anual do ICMS, para suprir um gasto fixo com tendência a aumentar, o da folha de pagamento. Uma conta que não fecha, e que há anos, e muito antes da gestão Rodas, já compromete em mais de 90% a verba de custeio da universidade.
O Reitor insiste em ver nesse fato e no aumento de empregados as causas da crise que tem que enfrentar: alegando, em carta enviada aos docentes, o “insustentável comprometimento com gastos de pessoal”, e apontando a contratação de cerca de 2.400 funcionários e 400 docentes entre 2010 e 2013 como causa do aumento incontrolável desses gastos, a atual gestão decidiu congelar qualquer reajuste salarial, negando até a reposição das perdas com a inflação. Por isso, e compreensivelmente, docentes e funcionários da USP, e os alunos em seu apoio, estão em greve.
Acima da questão salarial em si, que poderia ser negociada, está a atitude de calar sobre as verdadeiras causas do aperto financeiro: os gastos escandalosos da última gestão, que comprometeram o tênue equilíbrio de um orçamento já em seu limite há décadas. Nada também sobre o uso das reservas da USP (que levaria um poder executivo submetido à Lei da responsabilidade Fiscal – o que a USP não é – à condenação certa por improbidade administrativa). Também não se discute a atuação individual e irresponsável do ex-Reitor da USP em relação às suas congêneres paulistas, de certa forma levando-as a pagar um preço por algo que não fizeram. A Unicamp e a Unesp também cresceram, mais até que a USP, e a proporção da distribuição do repasse do ICMS nunca foi tampouco discutido.
Nada disso, ao invés de levantar-se todas essas questões, a culpa é da folha de pagamento, “dos doutores da USP”, que o Elio Gaspari mostra empenho em desqualificar. E ponto final, sem mais discussões nem negociações. Diz nosso Reitor: “afirmar que a crise financeira da USP é resultado de sua expansão ou de repasses incorretos feitos pelo Governo não nos ajuda a superá-la”.
Pois bem, valeria a pena então que nosso Reitor analisasse com mais acuidade o anuário estatístico que sua universidade produz, ano a ano. Lá veria que sim, o crescimento da USP desde 1995, quando foi congelada a alíquota, foi significativo, e que o problema, nem de longe, está nos 2800 funcionários e docentes recentemente admitidos. A USP nesse período não só criou cursos como incorporou ou fundou novos campi, como os de Lorena, de Santos ou da USP Leste, ampliou seus museus, cresceu em todas as dimensões possíveis. E isto, vale dizer, não pelo acaso, mas como fruto de uma política oficial (e louvável) de expansão por parte do Governo do Estado. Só faltou, é claro, destinar as verbas para sustentar tal crescimento.
Para facilitar o trabalho, mostro a seguir alguns desses números: entre 1995, ano do último reajuste da alíquota, e 2012, a USP passou de 132 cursos oferecidos a 249, ou um aumento de 88,6%. Na Graduação, as vagas oferecidas no vestibular, que eram 6.902 em 1995, passaram para 10.602 em 2012, um aumento de 53,6%. Os alunos matriculados aumentaram em 77,6% no período, passando de 32.834 para 58.303.
Na pós-graduação, área em que a USP se destaca, sendo responsável por 25% da pesquisa no país, os cursos tiveram um aumento de 34,6%, passando de 476 em 1995, para 641 em 2012. O que levou a um aumento do número de alunos matriculados de 102,3% no período.
Tudo isso com a mesma alíquota. A USP e suas congêneres Unicamp e Unesp só não quebraram porque no rico estado de São Paulo, o ICMS desde então felizmente sempre cresceu, e bastante. Tal crescimento, porém, não pode ser usado como contra-argumento para a não correção da alíquota, mesmo se ele foi na média superior à inflação do período, pois a conta é muito mais complexa.
Ao crescerem e modernizarem-se (vale lembrar que a partir da década de 1990 as universidades se informatizaram, por exemplo, e os equipamentos tornaram-se muitos mais caros e sofisticados), aperfeiçoarem-se e começarem a aparecer com destaque até no cenário internacional, os custos gerais das universidades paulistas crescem e muito (pois se sofisticam os equipamentos, aumentam os custos de pesquisa, além dos custos de manutenção, como reformas caras e necessárias em muitos edifícios, como o da FAU, e assim por diante), de tal forma que o custo por aluno também aumenta, e muito. Sem dúvida, porém, tal conta deve ser feita, pois não isenta o fato d que, além do mais, as gestões da USP forma, muitas vezes, irresponsáveis, e é uma das motivações pela transparência total das finanças da USP.
Por incrível que pareça, o número de empregados docentes e administrativos, alegadamente o grande culpado pela crise, também aumentou, é verdade, mas em proporções MUITO MENORES do que o crescimento da universidade mostrado acima. O número de docentes da USP, entre 1995 e 2012, passou de 5.056 para 5.860, ou um aumento de…..apenas 15,9%! O número de funcionários não docentes, que era de 15.105 em 1995, passou para 16.839, um aumento ainda menor, de 11,5%. E para aqueles que acham que a USP vem “inchando-se” de funcionários em relação ao número de docentes, os dados mostram que, pelo contrário, o corpo funcional enxugou-se nesse período, mesmo que discretamente, a relação professor-funcionário tendo diminuído de 1 / 2,98 para 1 / 2,87. Em artigo na Folha de SP em 19/08, Safatle mostra que se formos ver desde 1989, o número de professores da USP não variou o de funcionários…diminui!
Ou seja, que me desculpem o Reitor, a mídia e quem mais acreditar no argumento do inchaço da folha salarial, o que ocorreu na verdade é que a USP ampliou em 88% seus cursos e em 77% seu número de alunos mesmo tendo um aumento de docentes e funcionários de apenas 15% e 11%, respectivamente. A verdade é que, isto sim, nos últimos 17 anos, os empregados da USP aumentaram significativamente sua carga de trabalho e sua eficiência!
Se tomarmos, por exemplo, o critério do aumento da proporção de alunos de graduação per capita, aumentou em 53,3% a eficiência dos professores e em 59,4% a dos funcionários, entre 1995 e 2012, já que a proporção alunos/professor aumentou de 6,49 para 9,95, e a de alunos por funcionários, de 2,17 para 3,46, nesses 17 anos.
E dai, evidentemente, a conta não fecha. Aumentar cursos em quase 90% significa aumentar drasticamente os gastos de custeio, e também de pessoal, por mais que se aceite trabalhar mais ganhando pouco. A criação de 282 novos cursos de graduação e pós em 17 anos implica em ter novos professores e novos funcionários, mesmo que isso tenha sido feito em proporções muito menores. Se uma família cresce, não há saída: deve-se aumentar o orçamento familiar, para sustentá-la. É um cálculo simples, que qualquer estudante do ensino fundamental já saberia fazer: não é possível aumentar-se expressivamente o volume de gastos sem buscar mais fundos para custeá-los.
Aliás, há nessa lógica algumas malandragens. A Unicamp, por exemplo, abriu novo campus em Leme sob a promessa explícita do Governo do Estado de que por isso receberia uma alteração no repasse do ICMS, promessa simplesmente nunca cumprida! Além disso, o Governo repassa os 9,57%, mas não propriamente do total do ICMS< pois antes disso desconta a devolução da Nota Fiscal Paulistana ao contribuinte e o repasse de cerca de 2% (neste caso, do total) à CDHU (que depois ele não gasta com habitação, aliás, para manter o equilíbrio fiscal do governo). Como vem pleiteando a ADUSP (associação dos Docentes da USP) há anos, essa pequena manobra retirou do repasse da USP a pequena bagatela de R$ 2 bilhões entre 2008 e 2013! (leia aqui).
Pois bem, o orçamento das universidades paulistas continua fixado no repasse dos mesmos 9,57% da arrecadação do ICMS, desde 1995. E ai está certamente o maior erro do Sr. Reitor, e o motivo da enorme incompreensão da comunidade que ele deveria representar. Ao invés de voltar-se contra seus pares, deveria enfrentar o Governador do Estado e a Assembleia Legislativa para defender a urgente necessidade de ampliar a verba orçamentária da USP.
3. Desfazendo um segundo mito: “os professores da USP, Unicamp e Unesp são marajás e ganham demais”.
Vale então agora uma resposta mais precisa ao Sr. Gaspari. Não, os “Doutores da USP” não são marajás. São sim responsáveis por fantástico aumento do alcance da universidade pública paulista, que cresceu muito acima da proporção em que eles mesmos cresceram. Além de sustentarem o crescimento de 77,5% do número de alunos matriculados, promoveram um salto de 127,5% no número de dissertações e teses defendidas desde 1995. E, para isso, ganham, na verdade, muito pouco. Menos, aliás, que seus colegas das universidades federais.
Em um país com discrepâncias salariais escandalosas, em que o salário médio não passa dos R$ 2 mil e onde 43% das famílias têm renda mensal domiciliar menor que um salário mínimo (IBGE), falar desses valores é sempre um tabu, pois parece até perverso. Esse é o argumento comumente usado para desqualificar as reivindicações de professores, como se a discussão fosse a de nivelar por baixo e não a de necessária mudança desse quadro escandaloso, com um aumento efetivo da remuneração salarial geral, o que aliás vem sendo feito pelo governo federal nos últimos anos, com um aumento consistente e regular do salário mínimo.
Assim, talvez por conhecer muito bem dura realidade salarial brasileira, a classe docente das universidades paulistas de fato reclama muito pouco e trabalha com bastante abnegação, considerando a importância, as exigências e a quantidade do trabalho realizado. Aliás, quando o novo Reitor tomou posse, os professores da USP mostraram-se até abertos a abrir mão de reajustes face ao rombo que, sabia-se, havia sido feito na gestão passada. Aceitaram cortes de verbas de pesquisa, de bolsas, desde o início do ano. Porém, o que os mobiliza hoje, certamente, é a postura de jogar a culpa da irresponsabilidade de gestão sobre seus salários, apenas isso. Pior ainda, é ver ser construído na grande mídia um discurso de que são marajás privilegiados que “afundam” a universidade. Vejamos então os números mais de perto.
Embora seja uma carreira que exija como ponto de partida anos de estudos, e o nível de Doutorado, e seja considerada o ápice da trajetória acadêmica tendo em vista a reputação e a excelência internacional da universidade, um professor em início de carreira na USP em regime integral e dedicação exclusiva (não pode ter outras remunerações) ganha hoje, líquidos, cerca de R$ 6,5 mil, e um livre-docente com quinze anos de casa ganha menos de dez mil. Muito menos, certamente, do que os jornalistas que se levantam contra os “doutores da USP”. Enfim, os salários “faraônicos” alardeados pela mídia, e que beneficiam apenas um pequeno punhado de professores – inclusive o Reitor –, todos com mais de trinta anos de carreira e acumulando chefias e direções, são da ordem de R$ 22 mil.
Um número significativo de carreiras no funcionalismo público estadual, por exemplo na área jurídica, cujos concursos são disputadíssimos, partem de salários iniciais equivalentes aos desses poucos marajás da USP e três vezes maiores do que os “doutores”. Por exemplo, concurso de 2011 para vagas de promotor substituto no Ministério Público do Estado oferecia salário de R$ 20 mil (clique aqui). Os colegas Daniel Borges e Ana Gabriela Braga, professores de Direito da UNESP, explicitaram essa defasagem em artigo recente na Folha de S. Paulo (clique aqui). Muitos alunos recém-formados, após um par de anos de profissão, já recebem salários muito mais altos que o dos professores que os formaram.
Qualquer professor das universidades públicas estaduais que quisesse atuar no mercado, com seu currículo e conhecimentos específicos na sua área, receberia sem dúvida remuneração duas ou três vezes mais alta do que seu salário na universidade. Ainda assim, em geral esses professores optam por ficar na universidade. Dinheiro é importante, mas não é o objetivo central: a profissão de professor e pesquisador é, antes de tudo, uma opção de vida e dedicação ao ensino e à produção do conhecimento.
“Professor, além de dar aula, o Sr. também trabalha?”. Essa frequente pergunta feita aos docentes da USP mostra o quanto a profissão e seu papel são mal compreendidos. Um professor das universidades públicas paulistas tem uma carga de trabalho fenomenal, o que amplia ainda mais a injustiça da sua remuneração: além de dar aulas em sala de classe, deve realizar pesquisas, produzir livros, capítulos de livros e artigos acadêmicos, buscando incessantemente meios de financiamento para essas pesquisas e revistas para suas publicações, elaborando e apresentando projetos, candidatando-se a seminários e conferências, e assim por diante. Um único professor deve também orientar dezenas de estudantes em seus trabalhos de graduação, iniciações científicas, mestrados e doutorados, um trabalho árduo e individualizado, além de participar regularmente de bancas finais e de qualificação (de graduação, mestrado e doutorado), o que o leva a ter uma carga de leitura semanal – extra horário de trabalho – bastante significativa. Além de tudo isso, não são poucos os professores que se dedicam também a atividades de extensão, em que o conhecimento que produzem se confronta e contribui em situações reais de partilha com a sociedade. O fato é que, em resumo, um professor das estaduais paulistas trabalha muito, reclama pouco pois gosta do que faz, recebe menos do que deveria e, sobretudo, dorme pouco.
4. Desfazendo um terceiro mito: “os alunos da USP representam apenas uma elite privilegiada e poderiam pagar pelos seus estudos”
Outro mito amplamente divulgado é que as universidades estaduais paulistas, encabeçadas pela USP, são espaços que privilegiam os setores de alta renda, seus alunos sendo todos de elite. Essa falsa ideia ajuda a alimentar o argumento de que a USP e suas congêneres são injustas, favorecem quem tem dinheiro enquanto são financiadas por toda a sociedade, sobretudo a classe média, que aquece o comércio e portanto a arrecadação de ICMS.
O discurso não é de todo inverossímil, e sobretudo nasce certamente de um fato real: a USP foi criada, na década de 30, como um claro projeto da burguesia e para a burguesia do Estado, em seu objetivo de ganhar a hegemonia política e econômica no Brasil. As primeiras aulas eram dadas em francês, um claro indicativo de sua elitização.
Porém, ao longo do tempo, essa situação mudou. É claro que o sucateamento que nosso sistema econômico concentrador da renda causou no serviço público de educação básica levou a uma histórica e perversa inversão, que até hoje persiste: os mais ricos que podem pagar escolas particulares caras saem mais preparados para os vestibulares mais difíceis e entram na universidade pública gratuita, o que não conseguem os mais pobres, que tiveram de estudar na escola pública sucateada, e para quem se destinam os cursos superiores pagos. Uma inversão tremendamente injusta, mas que vem, felizmente mudando.
Pois é por isso que são imprescindíveis sistemas de acesso que deem a oportunidade do ensino superior gratuito aos menos favorecidos, como as cotas, raciais e sociais, a reserva de vagas para oriundos do ensino público, como vêm adotando as universidades federais e, infelizmente de maneira demasiadamente tímida, as estaduais paulistas (leia aqui). É por isso que é importante a progressiva substituição do vestibular por um exame único, o ENEM, que iguala um pouco as oportunidades e permite um melhor manejo da destinação das vagas. E é por isso que é fundamental a constante expansão das universidades públicas, desde que, é claro, aumentem também os recursos para financiá-la.
Justamente porque a USP ampliou, abrindo cursos noturnos, por exemplo, ela também se democratizou, aumentando as possibilidades de acesso a estratos mais amplos da sociedade, o que também foi possível pelo alto nível de dedicação aos estudos dos adolescentes de menor renda. Como foi apontado por Vladimir Safatle em sua excelente aula inaugural do movimento de greve, a USP é muito menos elitizada do que se pensa: um rápido levantamento (feito por meu colega Artur Rozestraten) na base de dados da Fuvest mostra que, em dezembro de 2013, 75,9 % ou 3/4 dos alunos da USP tinha renda familiar (ou seja, somando os salários de pai e mãe) de até R$ 6.780,00 ; 39,4% deles cursaram todo o Ensino Médio (ou a maior parte dele) em Escolas Públicas; 48,7% dos alunos vêm de famílias cujo maior grau de instrução é o Ensino Médio Completo. São, em boa parte, os primeiros na família a terem acesso ao Ensino Superior, e 70,1% deles pretende trabalhar ou contar com alguma bolsa ou crédito educativo para se manterem durante o curso. Mesmo que não sejam oriundos dos estratos de renda mais baixa, e mesmo se a USP ainda abrigue também uma boa parcela de alunos de maior nível econômico, não se pode mais dizer que ela seja uma universidade de elite. Na verdade, ela hoje é uma universidade que atende majoritariamente à classe média.
Com esses dados, vale uma resposta mais precisa à reportagem da Folha de SP, que sugere que 60% dos alunos da USP poderiam pagar mensalidades, como forma de “tirar a USP da crise” (quando já vimos que trata-se na verdade de um falso problema). O jornal apresenta cálculos do quanto custaria uma mensalidade na USP, de forma a substituir integralmente o atual financiamento oriundo do ICMS: R$ 3,9 mil. De onde o jornal tirou tal conclusão eu não sei, mas sei que faltou explicar como 60% dos alunos de uma universidade em que 76% deles vem de famílias com renda de até R$ 6.780,00 poderiam comprometer 57,5% dessa renda na mensalidade de apenas um único filho.
Em 1999, quando a USP ainda tinha reitorias que defendiam a universidade pública, o então reitor Jacques Marcovich solicitou ao IEA – Instituto de Estudos Avançados um estudo, coordenado por um dos nossos mais brilhantes intelectuais e professor da casa, Alfredo Bosi, que resgatasse o papel e a importância da universidade pública. Dentre os inúmeros argumentos do excelente texto, intitulado “A presença da universidade pública” (leia aqui o texto completo), vale o que segue sobre a cobrança de mensalidades: “De mais a mais, como o custo da universidade pública já é cobrado da sociedade através dos impostos, cobrar também dos alunos significaria cobrar duas vezes pelo mesmo serviço, sem que essa contradição trouxesse alívio orçamentário significativo. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou problemas da universidade brasileira (1991-1992), após ouvir especialistas, concluiu que a eventual cobrança de mensalidades nas universidades públicas a preço equivalente ao que se pratica nas particulares, cobriria apenas entre 7% a 10% do orçamento. Paulo de Sena Martins, em seu artigo “A Universidade Pública e Gratuita e Seus Inimigos”, cita três outros cálculos feitos de maneira independente que apontam valores equivalentes ou menores. Recorde-se, ainda que a eventual cobrança de mensalidades implicaria mais burocracia e custos adicionais, reduzindo o que sobrasse a termos irrisórios”.
Além disso, vale lembrar que a cobrança de mensalidade, embora seja desejada pela Folha de São Paulo, é proibida pelo art. 206, IV, da Constituição Federal, que prevê a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Mas sequer é essa a questão mais importante. O mais sério está no fato de que a defesa da cobrança de mensalidade representa também a defesa do fim do caráter público da universidade, e mostra desconhecimento sobre o que realmente é caro no ensino superior: a pesquisa.
5. Último (e mais grave) mito: “a universidade pública é ineficaz, a sociedade não deveria continuar sustentando-a e ela deveria ser substituída pelo ensino superior privado”.
Quando aparecem na mídia internacional os tais “rankings” de universidades, os jornalões brasileiros têm reações variadas: quando a USP se destaca (o que é sempre o caso), o feito é exaltado com algum (e ridículo) orgulho patriótico. Mas quando a notícia é “negativa”, ou seja, de que a USP, mesmo que ainda liderando com folga entre qualquer outra universidade do país e até da América Latina, cai algumas posições em algum ranking, surge um coro uníssono apontando para a “falência” da mesma. Rapidamente, surgem também artigos e análises apontando seu suposto anacronismo e a necessidade de sua privatização.
Rankings universitários, deve-se dizer, não medem nada. Ou melhor, medem coisas demais. O que se entende por “qualidade universitária”? O que convier a cada um, e esses rankings apontam para o que mais lhes interessa, o que nos tempos atuais é em geral a “eficiência de mercado” de uma universidade “de resultados”, o que não é forçosamente o melhor critério para avaliar a qualidade de um curso superior.
Não obstante, tome-se o ranking que se quiser, a USP e as universidades públicas lideram todos eles, na produção de conhecimento: número de doutorados concluídos, de patentes registradas, de pesquisas desenvolvidas, de artigos científicos publicados, de alunos graduados, etc. Como coloca o estudo do IEA já citado: “Não há maneira imune a críticas de se classificar universidades ou cursos por ordem de qualidade. Tais e tantas são as variáveis em jogo que sempre se pode discordar do peso atribuído a cada uma delas. Uma coisa é certa, no entanto: todos os critérios sugeridos até hoje apontam para a superioridade esmagadora da universidade pública”.
Para quem ainda difunde a ideia que por causa da atual crise a USP está “na lama”, termo recorrente na mídia, vale uma notícia recente (para os que acreditam em rankings universitários): no Ranking Acadêmico Mundial de Universidades, publicado no dia 15 de agosto, e elaborado anualmente pela Universidade Jiao Tong, de Xangai, a USP é a primeira entre as universidades brasileiras, no 144º lugar, e é a única instituição da América Latina entre as 150 melhores do mundo (leia aqui).
O interessante é que a própria Folha de SP, que sugere a cobrança de mensalidades na USP, faz o seu ranking (o “Ranking Universitário Folha”). E o utiliza para sugerir uma equiparação entre a mensalidade proposta para a USP e a da PUC-RJ, a “melhor universidade privada do país”. Curioso constatar que o jornalismo apressado (para dizer o mínimo) da Folha deixa de observar um fato de razoável importância: a “melhor universidade privada do país” aparece apenas em 15º lugar de seu ranking, precedida apenas por….universidades públicas, dentre as quais, em primeiro, quinto e sexto lugares, respectivamente, a USP, a Unicamp e a Unesp!
Não achem que, a partir do 15º, surge então uma lista infindável de instituições privadas. Não, seguem ainda mais e mais universidades públicas, exceto em 19º e 26º lugares, ocupados pela PUC-RS e pelo Mackenzie, respectivamente. E assim vai, encadeando-se instituições públicas umas atrás das outras até o 33º lugar, com a PUC-PR, de tal forma que, das cinquenta “melhores” universidades do país, segundo os critérios da Folha (para quem quiser acreditar neles), temos apenas sete instituições privadas. As outras 43 são, todas, públicas….e gratuitas.
Mesmo que se resolva analisar as cem melhores instituições do ranking, a presença de universidades privadas melhora um pouco a partir do 60º lugar, mas, ainda assim, temos apenas 31 instituições no total. Ou seja, das cem melhores universidades apontadas pelas Folha, 31% apenas são instituições privadas e pagas, e 69% são públicas.
Trata-se de uma hegemonia absoluta, por qualquer ranking ou critério que se queira adotar, das universidades públicas. E, vale dizer, todas as “privadas” que aparecem nos 50 primeiros lugares não são propriamente privadas, mas confessionais, ou seja ligadas a alguma ordem religiosa (PUCs, Mackenzie, por exemplo) e declaradamente sem fins lucrativos. As “grandes” universidades privadas, Uninove e Unip, aparecem, respectivamente no 70º e 76º lugares. Um jornalismo sério, em vez de ficar montando simulações sem sentido sobre possíveis mensalidades para a USP, deveria talvez perguntar-se por que, afinal, a universidade gratuita é tão superior, em qualidade, à universidade paga e privada.
Nos resultados mais recentes do ENADE, 47% das instituições públicas obtiveram nota 4 ou 5 (29,8% e 17%, respectivamente) as mais altas possíveis, um resultado bem superior aos 21% das universidades particulares que conseguiram igual desempenho (17,3% notas 4 e apenas 3,5% notas 5).
Vale observar, porém, como sublinha o estudo do IEA de 1999, que “defender a universidade pública não significa desqualificar o ensino superior particular, mesmo porque são complementares e sua convivência no Brasil já tem se mostrado mutuamente proveitosa. Note-se, por exemplo, que a universidade pública é o grande viveiro de onde saem os mestres e doutores que formam o corpo docente do ensino particular. Dos 3.200 mestres e doutores formados pela USP em 1997, mais de 90% encontraram lugar em outros estabelecimentos de ensino superior. O que nos leva a concluir – e aqui sim com propriedade – que dar apoio à universidade pública é uma excelente maneira de se apoiar, também, a universidade privada”.
Entretanto, ainda fica no ar o porquê de tamanha discrepância no desempenho das públicas e das particulares. A resposta se contrapõe ao argumento simplista de que cobrar mensalidades é um meio eficaz e suficiente para manter uma instituição de ensino superior. Não é, e por uma simples razão: o que sustenta uma produção de conhecimento de alto nível não são propriamente as aulas oferecidas, mas sim a capacidade de realizar pesquisa. Nenhuma universidade alcançará um alto padrão de qualidade enquanto se mantiver apenas como “oferecedora de cursos” e não sustentar uma intensa atividade de pesquisa, que retroalimente em permanência seu quadro docente e alavanque a produção científica.
Ocorre que, como aponta mais uma vez o estudo do IEA, “em sua essência, a pesquisa é uma atividade cara, de retorno seguro a longo prazo, mas incerto no horizonte imediato e, por isso mesmo, pouco atrativa para a iniciativa privada”. De tal forma que, em todo mundo, a pesquisa – e estamos falando aqui em valores infinitamente superiores ao da simples atividade didática – é financiada por fundos públicos, mesmo que possa ser também complementada por aportes privados. No Brasil, que ninguém se engane: as universidades particulares que fazem pesquisa – justamente aquelas confessionais que têm destaque nos rankings – recebem financiamento público das diferentes agências de fomento governamentais, tais como a Fapesp, Cnpq, Capes e Finep.
Há um outro fator que ajuda nessa diferença, também relacionado à pesquisa: todas as universidades públicas, federais e estaduais, oferecem contrato de trabalho a seus docentes em que uma carga horária significativa (24 hs semanais, geralmente) deve ser obrigatoriamente dedicada à pesquisa. Um professor de universidade pública deve dar, contratualmente, em torno de 8 a 12 horas semanais de docência em sala de aula, um pouco acima, mas não muito, do que se pede, por exemplo, nas universidades públicas francesas. Claro que muitos docentes, por dedicação e porque a universidade cresceu mais do que se contrataram professores, oferece mais horas do que isso, por iniciativa própria. Ainda assim, é obrigado a responder pelas horas de pesquisa e a mostrar sua produção em relatórios regulares.
A maioria das universidades particulares, entretanto, não funciona assim. Ao contrário, grandes universidades particulares contratam seus docentes (quase sempre de muito bom nível e pós-graduados na universidade pública) por hora-aula, sem a devida reserva de tempo para a pesquisa. É comum ver professores de particulares, cujos salários também estão longe de serem de marajás, terem que dar 30 horas de aula por semana em sala. E por cima disso ainda sofrem a exigência de produzir pesquisa (com financiamento dos órgãos de fomento). Pode-se dizer, sem errar, que os professores das particulares formam um batalhão de profissionais que também trabalham muito, ganham menos que merecem, e não têm condições humanas de produzir pesquisa com qualidade.
Essa condição peculiar de trabalho faz toda a diferença, embora seja frequentemente vista como “privilégio” (por quem não tem a apreensão da importância da pesquisa na universidade e da imprescindibilidade de destinar horas-trabalho a ela). E está ai também a razão pela qual as ditas “confessionais” se destacam nos rankings, imiscuindo-se às públicas: pois muitas delas fazem contratos docentes que permitem – mesmo que em menor quantidade do que nas públicas – a pesquisa.
Outro argumento recorrente dos paladinos do fim da universidade pública é o suposto exemplo norte-americano. Lá, dizem eles, o mercado privado sustenta a universidade, com o pagamento de mensalidades e doações milionárias dos ex-estudantes. O que, definitivamente, não é verdade.
Diz o estudo do IEA: “72,4% dos estudantes norte-americanos frequentam universidades públicas e apenas 28,6%, as universidades privadas. Em ambos os casos são cobradas mensalidades cujo total, à primeira vista, custeia boa parte das atividades. Nas públicas, essa participação é de 18% na média, enquanto nas privadas sobe a 41,2%. Mas o que não se diz é que essas provêm na sua imensa maioria, parcial ou totalmente, de bolsas oferecidas pelo próprio governo ou fundações de caráter benemérito. Ou seja, o aluno paga, mas paga com o dinheiro da sociedade. A imagem idílica do rapaz que financia seus estudos em Harvard lavando pratos nas horas vagas fica muito bem no cinema mas cabe mal na realidade. Na verdade, ele faz pouco mais do que entregar com a mão direita na tesouraria da escola o dinheiro que recebeu, sob a forma de bolsa de estudos, com a mão esquerda da comunidade”.
Esse quadro reflete a situação de outras nações desenvolvidas, que há séculos entenderam a importância e o papel do ensino superior gratuito e universalizado. Na França e no Reino Unido, no início dos anos 2000, 92,08% e 99,9% das matrículas em cursos superiores eram em universidades públicas, e esse número pouco se alterou até hoje.
Os EUA, o país mais poderoso na produção de pesquisas científicas no mundo, reserva o equivalente a quase 0,9% do seu PIB fenomenal para o fomento público à pesquisa, superado apenas pela Coréia do Sul, que investe 1% do seu PIB, porém em valores totais bem mais modestos. O Brasil figura em boa posição, destinando 0,6% de seu PIB em investimentos públicos à pesquisa, valor equivalente, por exemplo, ao Canadá (vejaaqui).
Cita-se muito também o papel das doações de ex-alunos nos EUA, que se beneficiam para isso de descontos no imposto de renda que não exitem aqui. O exemplo é bastante citado porque as universidades muito prestigiosas de fato conseguem fundos significativos, como o caso de Harward, que ostenta reservas próprias de cerca de U$ 15 bilhões. Porém, ainda segundo o estudo do IEA, “na média e, ao contrário do que se imagina, essa fonte de recursos não ultrapassa 5% (dados do Departamento de Educação dos EUA)”. Ou seja, fica clara a incompatibilidade da comparação com o Brasil, e desfaz-se a impressão de que naquele país o ensino superior seja financiado pelo setor privado. Não é.
A ideia de alguns de que a USP poderia então reequilibrar-se financeiramente apelando para ganhos diretos tais como a venda ou aluguel de parte do seu campus, a cobrança de estacionamentos ou de licenças para o comércio em seu interior é simplista. Por mais que seja verdade que a universidade poderia de fato arrecadar algum dinheiro com um melhor proveito dos serviços prestados ao setor privado, a cobrança de suas patentes, etc., ainda assim tratam-se de valores irrisórios face ao bilhões necessários para sustentar o ensino e a pesquisa. E, além do mais, deixemos em paz uma das últimas grandes áreas públicas e protegidas da ação do mercado imobiliário na cidade, o Campus do Butantã que, aliás, devia ser bem mais aberto à cidade. Vá lá saber, por exemplo, por que os brilhantes dirigentes da USP, de um lado, e do Metrô, de outro, recusaram-se a implantar a estação de metrô do bairro na entrada da universidade. Se a USP é pública, falta a seus dirigentes, é verdade, uma visão também pública.
Além de seus custos fenomenais, que ensejam obrigatoriamente o fomento estatal, há outra razão pela qual a pesquisa – ou parte significativa dela – deve manter-se sob tutela pública: a sua independência e autonomia.
Há evidentemente alguns setores em que as temáticas de pesquisa até podem casar com os interesses do mercado, e nesses casos, o setor privado mostrará interesse em contribuir financeiramente, o que pode ser muito positivo. Porém, a pesquisa não pode e nem deve depender dessa relação. Pois há um momento em que os interesses não combinam mais, e a universidade deve poder continuar a pesquisar. Daí a importância fundamental do financiamento público, do qual nenhum país, nem mesmo o mais liberal, abre mão. Em linhas gerais, o que alimenta e faz viver o mercado é a busca pelo lucro. Pesquisas que lhe interessem serão, em última instância, aquelas que, a curto ou médio prazo (senão tornam-se desinteressantes financeiramente), avancem nesse caminho. A universidade pública, em compensação, tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento do país e a melhoria social em geral, mesmo que em alguns casos isso possa passar muito longe da perspectiva do lucro privado. Ao contrário, é comum que se contraponha a ele.
Vejamos, por exemplo, a área do urbanismo que estuda a precariedade urbana e busca de soluções para a manutenção da população mais pobre em suas comunidades, mesmo que estas estejam situadas em áreas “nobres” de forte interesse do mercado. Não é o setor imobiliário que financiará pesquisas sobre o tema, e esse é um assunto típico, voltado para a questão social e de grande importância em um país que tem cerca de 20 milhões de pessoas sem moradia digna, que não encontra financiamento em lugar nenhum que não seja de órgãos públicos de fomento.
Os exemplos são infinitos. Vladimir Safatle em sua aula inaugural deu o exemplo de pesquisas na área biomédica que possam contrariar os interesses da indústria farmacêutica. Ou de análises econômicas que se confrontem aos interesses do mercado financeiro e dos bancos, e assim por diante. A autonomia na pesquisa é a garantia de um país de produzir conhecimento para o enfrentamento de grandes problemas, que não passem pelo aspecto comercial, nem pressuponham interesse para o setor privado.
A importância da pesquisa, sua autonomia e a atenção que a USP e as universidades públicas paulistas lhe destinam é a razão pela qual elas se destacam tanto na produção científica brasileira. Só a USP, como lembra Vladimir Safatle em artigo na Folha de SP (leia aqui), produz 25% de toda a pesquisa no Brasil. A universidade formou em 2012, 6.016 mestres e doutores, um número que cresceu 268% desde 1989, quando formou 1.634 pós-graduandos.
Em suma, a contribuição da universidade pública, e especialmente da USP e suas congêneres estaduais, para o desenvolvimento do país, é fenomenal. A USP vem cumprindo com louvor seu papel ao longo dos últimos 70 anos, mantendo-se em destaque no âmbito nacional, mas também internacional. É a única universidade da América Latina a aparecer consistentemente em destaque nas mais diversas classificações internacionais, e expande-se de forma regular e consistente. O gigantismo da sua folha de pagamentos é decorrente do seu crescimento e de seus bons resultados, e não o contrário. Ao invés do que se difunde, a massa salarial da USP, mesmo com a participação por sua conta de seus (ilustres) aposentados, se enxugou nos últimos anos se comparada ao aumento dos estudantes que ela beneficia e do volume sempre crescente de seus resultados acadêmicos e científicos.
Termino com uma frase feliz do documento coordenado pelo Professor Alfredo Bosi em 1999: “É indispensável lembrar, ainda e sobretudo, que a universidade pública brasileira não é uma utopia, mas uma realidade duramente construída com o trabalho de gerações de brasileiros, um imenso patrimônio da nação a ser preservado com o devido cuidado. Uma verdadeira universidade demora décadas para ser construída, uma reforma mal conduzida pode destruí-la em muito pouco tempo”.

España: Madrid cierra aulas públicas por "poca demanda" y mantiene las de los concertados
19 de agosto de 2014- El colectivo Aulas en la Calle acumula datos de solicitudes de colegios en Infantil para reflejar un “trato de favor” a la escuela privada
- Cantidades similares de matrículas se utilizan para clausurar grupos o dejarlos abiertos
- La Comunidad de Madrid ha autorizado centros concertados religiosos en zonas con escasas peticiones
Por Laura Olías | El Diario

El colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada (Madrid) se ha convertido en un “fuerte de la educación pública” durante el verano. Varias familias afectadas por el cierre de un aula para niños de tres años cumplieron 50 días de encierro el pasado martes, 12 de agosto. Protestan por lo que califican como trato de favor por parte del Gobierno de Madrid hacia la escuela privada.
Ahora, un informe elaborado por el colectivo Aulas en la Calle arroja cifras que tratan de desmontar los argumentos que utiliza la Consejería de Educación para abrir o no aulas de Educación Infantil. El departamento se ampara en las solicitudes, plazas vacantes y ratio de alumnos por clase. El estudio afirma que no afecta por igual a todos los colegios. “Existe un trato de favor para los colegios concertados frente a los públicos”, concluye Chemi Martín, profesor y portavoz del colectivo al analizar esta manera de actuar del Partido Popular en esta etapa educativa.
El curso pasado, la consejera de Educación, Lucía Figar, echó el cierre a una de las dos clases de primero de Infantil del colegio público Arcipreste de Hita por un descenso en las solicitudes de admisión. Para el próximo septiembre, las peticiones se han disparado de las 28 a las 44, pero Educación no concede más que un aula de 25 niños. Su argumento: “Hay plazas vacantes en los centros cercanos que no justifican la apertura de una nueva aula”, afirma un portavoz.
“Tratan a los niños como meros expedientes, que da igual que sean admitidos en un colegio que en otro”, se quejaba Jéssica Gómez Romero, madre de uno de los 19 niños que se ha quedado sin plaza en el Arcipreste, en conversación con eldiario.es.
Sin embargo, Chemi Martín señala que la selección de qué colegios sufren los recortes no es igualitaria: “Cuando hay que cerrar un colegio por baja demanda, siempre es público. Con los mismos resultados en concertados, no se eliminan los conciertos y son colegios que pagamos con el dinero público”.

En el documento de Aulas en la Calle se enfrentan los datos de admisión de los colegios concertados de la localidad madrileña de Fuenlabrada en los cursos pasados ya que los datos del curso 2014/2015 (a falta del periodo extraordinario de matriculación) no han sido publicados por la Comunidad de Madrid. Entre ellos está, el colegio Alhucema, situado en la misma zona del Arcipreste de Hita, que este curso ha podido abrir dos aulas de 17 niños cada una. “Eso es por debajo de la ratio máxima de 25 que fija la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Arcipreste de Hita, con 44 solicitudes –diez más que el Alhucema– podría tener dos aulas de 22, pero solo le conceden una de 25”, apunta Chemi Martín.
La diferencia entre ambos centros, uno público y otro concertado, condujo a una denuncia de la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos contra la consejera Figar y contra el director del área territorial de Madrid-Sur, Alberto González, por posible prevaricación. El estudio de Aulas en la Calle extiende “el trato de favor” a otros colegios concertados: durante el curso recién terminado, el colegio Albanta admitó 41 solicitudes, para las que tuvo dos clases, y el centro Madrigal ofreció tres clases de 22 alumnos.
Además, este colectivo ha tenido acceso a los datos de admisión del próximo curso en el centro concertado Fuenlabrada, que tendrá dos aulas de primero de infantil tras haber recibido 43 solicitudes, una menos que el Arcipreste de Hita, que sólo tiene una autorizada.
Misma dinámica en otros municipios
Esta dinámica favorecedora está extendida. En otros municipios madrileños también han criticado diferencia de criterios a la hora de abrir nuevos centros. La consejera Lucía Figar anunció en plena Semana Santa la apertura de dos colegios concertados religiosos en Parla y Rivas-Vaciamadrid, que echarán a andar el próximo septiembre. En ambas localidades, no ha existido ningún centro de estas características hasta el momento y sus respectivos Gobiernos municipales se opusieron a la medida, dado que habían solicitado sin éxito la apertura de colegios públicos en reiteradas ocasiones.
En Parla, el colegio Juan Pablo II, gestionado por la Fundación Educatio Servanda, abrirá sus puertas el próximo curso en la zona de Parla Este, de unos 22.000 habitantes y con mucha vivienda protegida. “Es una zona donde reside sobre todo gente joven y cada vez más niños”, cuenta un portavoz del Ayuntamiento. “Llevábamos mucho tiempo pidiendo el colegio público número 22 de la localidad, pero nos lo negaban porque no era necesario, supuestamente”, continúa.
El pasado curso, 115 alumnos se quedaron fuera del colegio público Madre Teresa de Calcuta (muy cercano al Juan Pablo II), por falta de plazas. El Ayuntamiento denunció la adjudicación de la parcela al colegio católico, que consideran “ilegal”: “El terreno es propiedad del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y en la mesa de adjudicación no se informó de las características del proyecto al responsable municipal. Nos enteramos de que el terreno iría para un colegio religioso mediante unas declaraciones del portavoz del PP en Parla”, relata el portavoz del consistorio.
Ante la polémica, la Consejería y el Ayuntamiento de Parla han firmado un convenio en el que la Comunidad se compromete a finalizar las obras que quedaban pendientes en el centro Madre Teresa de Calcula, invertirá un millón en el mantenimiento de los centros públicos y construirá un colegio público para dentro casi dos años: curso 2015/2016. El Ayuntamiento concederá la licencia al colegio religioso, aunque continuará con la denuncia por la adjudicación.
En Rivas-Vaciamadrid la situación es similar. El Ayuntamiento ha impugnado la orden de la Comunidad de Madrid que autoriza la apertura de un centro educativo concertado, también debido a la parcela adjudicada por la Comunidad, “incompatible con las prescripciones urbanísticas del planeamiento en vigor”, apuntan en un comunicado. El colegio Santa Mónica –que pertenece al Camino Neocatecumenal (el movimiento conservador católico conocido popularmente como los Kikos)– informa en su cuenta de Twitter que, pese a todo, abrirá sus puertas en septiembre.
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas recurre también a las cifras para deslegitimar la demanda del colegio concertado por parte de sus ciudadanos. Frente a las 127 solicitudes que superaron las plazas públicas ordinarias ofertadas para alumnos de 3 años, el centro concertado Santa Mónica solo ha recibido 12 matriculaciones (de las 25 disponibles) para ese curso, según recoge la impugnación del Ayuntamiento.
“No queremos que saturen los centros y que todos lleguen a la ratio máxima. Lo que pedimos es igualdad entre colegios, que no cierren los públicos por baja demanda cuando hay otros concertados en la misma situación”, resume Chemi Martín, de Aulas en la Calle. Mientras las familias planean actividades para septiembre, en un verano que, para ellos, sigue avanzando entre pancartas.
Opacidad en la escolarización
El informe Trato de favor de Aulas en la Calle basa gran parte de su información en los datos de admisión del curso pasado. El motivo, la falta de información oficial al respecto. “Hemos pedido a la Consejería de Educación el número de solicitudes de los colegios concertados de Fuenlabrada para el próximo curso, pero no nos la dan”, explican. Este medio también ha solicitado información al respecto y la respuesta de Educación remite a septiembre, cuando termine el proceso de escolarización.
“El problema es que antes todo el proceso de admisión era mucho más abierto, con las Comisiones de Escolarización, de las que formaban parte activa los padres y sindicatos. Ahora, con el nuevo Servicio de Apoyo a la Escolarización, su peso se ha reducido y todo el proceso es mucho más opaco”, critica Chemi Martín, portavoz de Aulas en la Calle.

Perú: Sector privado y la educación: ¿dónde está el detalle?
18 de agosto de 2014Por Teresa Tovar Samanez | Artículo originalmente publicado por Diario UNO

El CADE por la Educación pone en agenda la participación del sector privado. El MINEDU anunció que el Estado contratará servicios al sector privado por obras de infraestructura y/o concesionando servicios (mantenimiento, etc.,) y, en algunos casos (educación técnica), concesionando la gestión
El tema no es nuevo. Está siendo alentado por la OEA, el BID y el BM y forma parte del debate sobre los nuevos objetivos del milenio a definir el 2015. Chile está revirtiendo el modelo por sus malos resultados y en otros países se está implementando sin evidencia consistente. En el Perú, tenemos como antecedente el DL.882, promulgado durante el Gobierno de Fujimori, que da pie al lucro en la educación y ha ocasionado entre otras cosas el caos total de la calidad de la educación universitaria por el crecimiento desregulado de la inversión privada. Nos hacemos cuatro preguntas en relación a las alianzas público-privadas:
1. ¿Con qué objetivo se plantean? El Ministro ha convocado al sector privado para que intervenga en infraestructura (educación básica) y en infraestructura y gestión (educación técnica). Pero el sector privado ha planteado en el CADE que su rol debe ser mayor, interviniendo como agente y gestor.
2. ¿Cuál es la visión? La OEA impulsa las alianzas público-privadas para promover la competitividad de la fuerza laboral. En el CADE se ha planteado que se hagan “desde la visión de los mercados¨, asumiéndolas como oportunidad para el negocio y para reducir la brecha entre la oferta educativa y el mercado laboral. Vale la pena recordar que el Proyecto Educativo Nacional propone otra cosa: la educación es un derecho y su objetivo es formar ciudadanos que contribuyen al desarrollo de su país. A propósito, la palabra “derecho” estuvo prácticamente ausente en el CADE.
3. ¿La educación privada es mejor? Aunque la mitad de la educación en Lima es privada, no supera a la pública en sus resultados en los sectores de menores ingresos. Al poner por delante el objetivo de lucro se convierte a menudo en estafa. En países como Chile se transformó en un fuerte mecanismo de segregación por lo que M. Bachelet ha propuesto desmontarlo. El Ministro ha anunciado que se introduciría “algo de competencia” entre los colegios difundiendo cuáles son los colegios de mayor rendimiento. Recordemos que el ranking de escuelas en Chile trajo consecuencias nefastas: se cerraron las escuelas donde asistían los pobres. La meritocracia solo funciona sobre la base de un piso de igualdad.
4. ¿Quién ayuda a quién? El Ministro ha convocado al sector privado para que apoye al sector público a cerrar la brecha de infraestructura. Sorprendió la lectura al revés: afirmando que el Estado debe apoyar al sector privado (BID). A nivel latinoamericano se está alertando sobre el peligro de dilución de la esfera pública en la educación. Urge abrir el debate público sobre este tema, evitando que transcurra en espacios que privilegian determinadas voces con poder económico.
Nota de la editoría: CADE por la Educación es un encuentro anual promovido por las y los empresarias/os que integran la CADE – Conferencia Anual de Empresarios, de de Perú.
Lee también: Ministro en CADE por la Educación

En seminario, educadoras/es e investigadoras/es critican privatización de la educación pública
13 de agosto de 2014CLADE estuvo presente en el encuentro y firmó carta abierta en la que se defiende que los recursos públicos sean invertidos exclusiva y directamente en las redes y escuelas públicas, y que su definición resulte de la participación social y control público

En el marco del IV Seminario Internacional de Investigación del GREPPE (Grupo de Estudios e Investigaciones en Política Educacional), realizado de 6 a 8 de agosto en la Universidad de Campinas (UNICAMP), en Brasil, educadoras/es e investigadoras/es se manifestaron contra procesos y estrategias de privatización de la educación pública, afirmando que estos generan y profundizan procesos de segregación y estratificación de la educación, en desacuerdo con la realización de este derecho humano.
En carta abierta, estas/os educadoras/es e investigadoras/es reafirman el principio de que los recursos públicos se inviertan exclusiva y directamente en las redes y escuelas públicas, y que su definición resulte de participación social y control público.
(más…)





